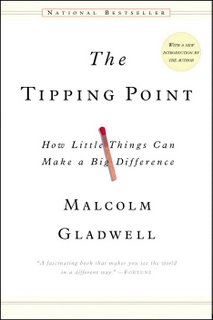Há uns bons trinta anos que Eric von Hippel insiste na importância da inovação iniciada e desenvolvida pelos clientes e utilizadores.
A sua tese é facilmente aceite no que respeita aos mercados businness-to-business, mas menos valorizada nos mercados de bens de consumo.
No entanto, a Coca-Cola sob a forma em que hoje a conhecemos foi inventada por consumidores que decidiram misturar o xarope à venda nas farmácias com água gaseificada. O automóvel descapotável foi inventado por condutores que experimentaram serrar o tejadilho. O micro-computador foi inventado por estudantes de informática que desejavam ter capacidade de cálculo em suas casas. A World Wide Web foi inventada por um investigador do CERN insatisfeito com os interfaces disponíveis para buscar informação na internet. E assim sucessivamente.
Von Hippel cita uma interessante investigação levada a cabo pela 3M. Segundo ela, as inovações desencadeadas pelos clientes produziram oito vezes mais vendas do que as inovações iniciadas dentro de casa. Mais: as inovações dos clientes conduzem mais frequentemente a novos produtos e novos negócios, ao passo que as outras traduzem-se usualmente em simples aperfeiçoamentos incrementais do que já existe.
No seu novo livro "Democratizing Innovation", Von Hippel mostra que as tecnologias da informação aumentaram radicalmente a capacidade de inovação dos clientes, conduzindo à democratização do processo. Cada vez mais, os clientes cooperam entre si para desenvolverem produtos e serviços mais adaptados às suas necessidades particulares e para os disseminarem uma vez inventados e testados.
Também aqui encontramos, por conseguinte, um exemplo do crescente poder dos clientes face aos produtores. Que podem estes últimos fazer para não perderem inteiramente o barco?
Von Hippel sugere três estratégias:
1. Disseminar em larga escala as inovações introduzidas pelos clientes e colaborar na sua melhoria;
2. Vender aos utilizadores produtos e software destinados a facilitar o processo de inovação;
3. Vender produtos e serviços complementares das inovações desenvolvidas pelos clientes.